O Exterminador do Futuro: A Salvação (
Terminator Salvation, EUA, 2009) representou antes de tudo um grande desafio para os criadores e para os admiradores da franquia. James Cameron era o padrão qualitativo a ser seguido - e praticamente impossível de ser alcançado, seja no âmbito artístico ou pelos valores nostálgicos, sempre atrelados. Ao mesmo tempo, oferecer uma continuidade relevante à mitologia é pisar em campo minado. Primeiro, por se desfazer de todas as convenções caras ao
terminatorverse, considerando que nos três filmes anteriores a premissa básica era a mesma. Sem mais das elocubrações espaço-temporais e do tenso jogo de gato-e-rato, o alvo agora era a guerra do futuro. Depois, porque o
Exterminador original já tem 25 anos, e a nova produção explora um cenário já visitado por incontáveis imitações desde então (trilogia
Matrix inclusa). E finalmente, o público, essa incógnita ranhenta, teria que aceitar o novo perfil da série, nesse primeiro momento capitaneado por um abacaxi de três letras: McG.
Joseph
McGinty Nichol é o homem dos estúdios para produtos pop de massa. É, basicamente, um produtor. Competente nesse negócio, diga-se. Emplacou vários hits, de
As Panteras e
The O.C. às
Pussycat Dolls e
Chuck. Produz
Supernatural desde sempre, o que me faz (infeliz e) automaticamente parte de seu público. É um profissional multimídia bem-sucedido num mercado ultracompetitivo, background compartilhado por seu camarada J.J. Abrams, que deu show pra quem quis ver no novo
Star Trek. Então, o que fez exatamente de McG uma aposta arriscada? Fora o pré-conceito, não muito.
Mas não fui exceção. Ao mesmo tempo em que achava promissora a escalação de Christian Bale, ainda hiperexposto via
Cavaleiro das Trevas, queria enviar pela máquina do tempo o T-800, o T-1000, a T-X e até o
Keruak no encalço do McG antes que ele gritasse "ação". Reclamações? Ah, eu tinha muitas. Desde o apelidinho metido a besta até o tenebroso roteiro vazado, passando pela evidência séria de uma absoluta falta de controle no set (pelo menos, foi
engraçado) e pelos
péssimos agouros que desciam Olimpo abaixo. Sem falar em sua afinidade com uma certa "atitude pop" que sempre caracterizou sua filmografia. Dificilmente eu poderia estar enganado.
Mas estava. McG fez um filmão - e a única atitude aqui está mais pra
"War Ensemble", do Slayer, que pra pop. Salve Ares. Só que o jogo foi decidido apenas aos quarenta e cinco do segundo tempo, quando vi quase tudo indo pelo ralo num pênalti absolutamente desnecessário.
O início do filme se passa em 2003, introduzindo o personagem Marcus Wright (Sam Worthington), que está no corredor da morte, e a Dra. Serena Kogan (Helena Bonham Carter), da Cyberdyne Systems, que tenta convencê-lo a doar seu corpo para pesquisas médicas. A partir daí, a história segue a cronologia sugerida desde o final de
A Rebelião das Máquinas: um ano depois, o sistema de defesa militar Skynet torna-se autoconsciente e começa uma guerra nuclear - ou, no clima da série, o Dia do Julgamento Final. A humanidade é quase extinta. Estamos agora em 2018 e John Connor (Bale) lidera um ataque da Resistência contra uma base subterrânea da Skynet. No local, eles encontram esquemas de uma nova linha de exterminadores que se utilizam de tecido vivo (o T-800 dos dois primeiros filmes), além de outras experiências com seres humanos - entre eles, Marcus, que desperta naquele mundo pós-apocalíptico sem lembrar de como foi parar ali.
Connor também descobre que os oficiais da Resistência planejam uma investida definitiva contra as máquinas. E que ele e um jovem desconhecido chamado Kyle Reese (Anton Yelchin) encabeçam a lista negra da Skynet.
Se McG já tinha antecedentes artisticamente irregulares, quem dirá a dupla de roteiristas John D. Brancato e Michael Ferris. Felizmente, com o roteiro reescrito mais tarde por Jonathan Nolan (não creditado), a cota de diálogos ruins se manteve num nível aceitável e melhorados pelo bom desempenho do elenco. Mesmo o infame
"agora eu sei o gosto da morte", dito por Worthington, soa plausível no contexto. E a ligação dos eventos é razoavelmente bem amarrada, dada à quantidade de subtramas se cruzando - o dilema pessoal de Connor com relação à sobrevivência de seu pai se contrapondo ao ataque iminente da Resistência à Skynet é a mais interessante. Poderia até ser melhor desenvolvida, pois há muito pano pra manga aí. Quem já assistiu a série
24 sabe a que um ponto um herói pode chegar jogando contra a camisa.
Também digno de nota é o perfil atual do "messias" Connor, com rompantes semi-paranóicos, complexo de perseguição e obsessão pelo futuro imediato. Embora eu tenha sentido falta do humor de outrora, imagino que seja natural que ele, agora um soldado forjado no campo de batalha, tenha perdido muito de sua jovialidade. Essa sensação é maximizada pelo tom sempre raivoso de Bale, aqui numa performance um tanto... mecânica. Soou unidimensional demais e carismático de menos, assim como a bela Bryce Dallas Howard, no papel de uma grávida Kate Connor, por motivos terceiros. A atriz faz o que pode para dramatizar um relacionamento tão profundo num espaço tão reduzido.
Já Kyle Reese, talvez o personagem mais importante a longo prazo, esteve nas boas mãos do russo Anton Yelchin. Com sensibilidade, conferiu um perfeito mix de inocência, coragem e idealismo consagrados pela atuação original de Michael Biehn. Era o parâmetro que eu precisava: o Chekov, do Star Trek 2009, é um ator talentoso e promissor.
A grande surpresa fica por conta da atuação sólida e decidida de Sam Worthington, que está em todas ultimamente. Com um personagem que é peça-chave na trama, ele supera as pendengas conspiratórias envolvendo a Skynet e alguns traumas de seu passado misterioso ao melhor estilo America Vídeo. Muito mais
wolverinesque que
Wolverine. A cena em que ele surra um bando de renegados soa bastante visceral (num excelente trampo da edição de som), atingindo um efeito muito superior às pancadarias biônicas mais pra frente. E além de fluir muito bem em tela, consegue uma boa química tanto com a deliciosa Moon Bloodgood (
sangue-bão até no sobrenome), quanto com a dupla Kyle Reese e Star (Jadagrace Berry), a menininha
mais durona do cinema desde Newt, de
Aliens, o Resgate. E falando em resgate, foi memorável a participação do veterano Michael Ironside, como o General Ashdown. Pena que foi tão curta.
A estética do filme é um primor tétrico pós-guerra. A fotografia árida e cinzenta do que restou das
cidades é desoladora e reforça não só a natureza mortificante da paisagem, como também a sensação de perigo constante. E não é pra menos: as ruínas são patrulhadas por hunter killers aéreos e por
arrepiantes exterminadores T-600. Lentos, trôpegos e pesadões, eles são monstruosidades mal camufladas com farrapos e máscara de borracha - mais primitivos que eles, só os
robôs ABC, de Judge Dredd. São confundidos com seres humanos apenas de longe, o que rende uma cena ótima com Marcus. Não vou negar que achei o T-600 particularmente bacanudo. Eles parecem
zumbis!
As novas máquinas têm um design diferenciado dependendo da função. Sendo assim, o
Harvester gigantesco tem sua razão de ser, trabalhando em conjunto com as naves de transporte. As
Mototerminators fornecem bons ganchos para sequências de ação desenfreada e, por isso mesmo, confesso que esperava mais. Já os
Hydrobots não são mais que refugos do Scorponok - aí sim, procedendo uma comparação com os
Bayformers.
Por último, revemos os jurássicos
T-1, do filme anterior, com design levemente modificado guardando os campos de concentração da Skynet.
Os campos de morte, por sinal, são uma visão do inferno - ou de uma realidade distante há apenas sessenta anos atrás. Citados por Reese no primeiro filme, acabaram perdendo aí uma ótima deixa para autoreferência. Seria o período em que Reese passou escravizado recolhendo corpos e quando recebeu a
marca de identificação a laser. Mesmo assim, citações ao passado da franquia não faltam aqui. Estão lá o eterno hit dos gunners (na boa companhia de
"Rooster", do Alice in Chains), as taglines clássicas da série, a origem da scarface de Connor, a cena do retrato de Sarah e até reedições visuais, como um exterminador
cortado ao meio tentando matar Connor e o T-800 subindo lentamente os degraus de uma escada.
T-800, aliás, paramentado com a face digitalizada do próprio Schwarza, num dos resultados em CG mais bizarros que eu já vi. Mas aí não tenho certeza se a culpa é da qualidade dos efeitos ou da carranca ogra do Governator.
O respeito de McG pelo legado de Cameron é latente. Pura reverência, em muitos momentos até exagerada. Sem menosprezar o timing dos acontecimentos, capturou com inteligência as particularidades daquela guerra ainda em seu estágio inicial, sem a profusão de lasers ou exterminadores de metal líquido.
A Salvação ainda trilha a estrada da ação e da ficção-científica, recorrentes na série, mas vai além e finalmente a inicia no gênero da guerra, talvez sua verdadeira vocação desde o início.
■ spoilerPorém, quase pôs tudo a perder na reta final. Aquela punhalada que John Connor leva do T-800 doeu mais em mim que no salvador da humanidade. A cena já constava no roteiro original, sendo concluída com o cyborg Marcus "adotando" a pele de Connor e assumindo sua identidade no intuito de manter a lenda viva. De lascar.
Por providência divina, esse script vazou na web e a Warner Bros., num raro espasmo de lucidez, decidiu alterar o final. Do jeito que ficou, achei ótimo.
Viva a Internet-Skynet.■ /spoilerMcG realizou a guerra de James Cameron. Guerra que ele evitou por anos e que eu sempre quis ver desde o primeiro filme. O destino pode ser até irônico, mas geralmente cumpre o que promete. Que continue inevitável com filmes assim.
Na trilha: "Let's Start a War", The Exploited.

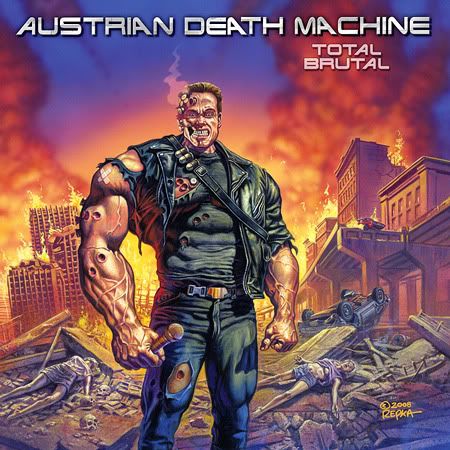




 Essa foi mais evidente. Voltando um pouco no tempo, chegamos à antológica
Essa foi mais evidente. Voltando um pouco no tempo, chegamos à antológica 
 Voltando mais ainda no tempo: revista
Voltando mais ainda no tempo: revista 














