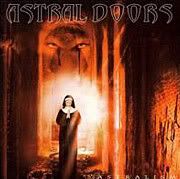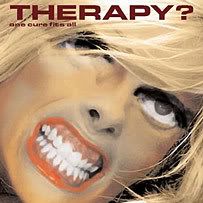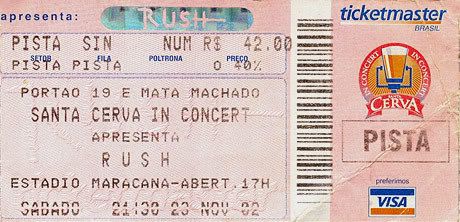Troféu Zombie de Ouro

Acabei de crer: como é difícil fazer uma lista de melhores. Não tem como comparar estilos, abordagens e propostas sem um parâmetro nivelador. Isso não existe, a não ser que se atenha a um único gênero, o que não é o caso. E ainda tem de ser levado em conta o fator "identidade". Como na música. Não é porque John Coltrane e Miles Davis se criaram no jazz que eles são indistingüíveis. Esta que é a beleza da coisa toda. Essa 'organicidade', esse espírito único.
Nunca consumi tanta música quanto em 2006. Isso graças ao MP3. Então, ainda que tardiamente, segue uma lista não dos melhores, mas dos álbuns lançados neste ano que mais me tomaram tempo pra tecer um julgamento. Ou que mais me custaram a passar para outro
playlist, pois aquilo tava muito bom e eu queria mais. Não entraram prováveis grandes discos que não me cativaram de primeira (e que deixei para destrinchar "mais tarde"-sabe-Deus-quando), nem bons lançamentos que se limitaram a reeditar seus padrões habituais.
Também não segui ordem nenhuma. Bom... talvez o tamanho das capas entregue o impacto que o respectivo álbum exerceu sobre mim.
Aliás, desde novembro que estou conferindo vários lançamentos de 2007. Muitos deles realmente impressionantes. Deu pena não incluí-los na lista. Mas lista é lista e tem limites. Criá-las... "é uma arte sutil".

A-wop-bop-a-loo-mop-a-lop-bam-boom!

Registro surpreendente este do
VAST. E 100%
outsider no que se refere ao famigerado "esquemão" ('jabá', aqui no Brasil).
April (
On Line Version) foi gravado em um único take e traz versões das músicas que estarão em seu próximo álbum - a ser lançado no início deste 2007 novinho em folha. Como o nome sugere, só está disponível on-line. É, senhoras gravadoras, os artistas já acordaram, só falta vocês...
Pouco conhecido por estes cantos, o VAST (
"Visual Audio Sensory Theater") é quase uma
one-man-band, sendo
Jon Crosby o one-cara. Produtor e multiinstrumentista artesão de atmosferas, ele tem um fraco por brinquedinhos de estúdio de última geração e emula sem dó aquele senso melódico oitentista de arena,
mezzo Simple Minds/U2
mezzo Depeche Mode/Jesus & Mary Chain. Nesta pré-versão de
April, no entanto, ele se despe da parafernália eletrônica e comete uma
session semi-acústica, intimista, soturna e belíssima. Quem não se emocionar com
Sunday I'll Be Gone,
She Visits Me,
One More Day ou
I Can't Say No To You é porque tem um cubo de gelo no lugar disso aí que chama de coração.
E pô... se
I'm Too Good e
I Am A Vampire são tão legais assim e ainda não são as versões finalizadas, faça idéia o que vem por aí...
 She Wants Revenge
She Wants Revenge provou com este disco que tem mais que um nome bacanudo. É
bastante influenciado pelo... ah, influenciado não... overdosado... bêbado... fumado... cheirado pelo Joy Division. Talvez fosse o que o JD estivesse fazendo hoje se Ian Curtis preferisse um suicídio homeopático à base de ecstasy. Ritmos em sua maioria cadenciados,
drum-machines batendo forte no peito, baixão escaneado de Peter Hook e climão sorumbático de
rendez-vous gótico.
Iniciados em Sisters Of Mercy, Heavy Current e Bella Morte vão pôr isto no i-pod e agitar uma rave no cemitério mais próximo. Já o resto da humanidade vai ouvir
I Don't Want To Fall In Love e ter seus neurônios trabalhando no ritmo dessa música por semanas à fio. Uma das faixas mais grudentas do ano, com certeza. Álbum interessantíssimo. Dica do
Kalunga.

Saudades do
Sonic Youth fase
Daydream Nation.
"Rather Ripped", pode ser intrigante, introspectivo e sem concessões, como o SY sempre foi, mas o sentimento que ficou é que
Lee Ranaldo,
Kim Gordon,
Thurston Moore e
Steve Shelley alcançaram uma
zenicitude tal que largaram esse negócio de distorção pros moleques da nova geração. Como se dissessem
"já fizemos nossa parte, e muito bem-feita, agora é com vocês". Mais ou menos por aí.
Pra quem tem alguma história com o SY (leia-se "curte a banda, pelo menos, desde o álbum
Goo"), sabe o quanto isto aqui é orgânico, verdadeiro e especial. Mas para quem está passando de bobeira, nunca vai imaginar que o grupo já foi um dos mais furiosos e barulhentos do underground americano.
Ps.: tomei um pusta susto no início de Jams Run Free... é igualzinha a 1979, do Smashing Pumpkins.

Surgido em 1974, o
Radio Birdman foi um dos primeiros grupos reconhecidamente punk da Austrália. Apesar da fúria e urgência reformista típicas, neste caso, a geografia teve tudo a ver no som: influências de surf music, acid rock, blues e muito garage rock à MC5/The Stooges davam o tom. O RB era punk, mas o parentesco era mais próximo do AC/DC que dos Sex Pistols.
O álbum de estréia,
Radios Appear, de 1977, é daqueles clássicos que se você ainda não ouviu, não diga a ninguém até fazê-lo. E, ainda que não se compare, este
Zeno Beach (o primeiro desde
Alone In The Endzone, de 81), marca o retorno dos caras em altíssimo nível. Estão lá o trampo bem-sacado das guitarras, o vocal cínico de
Rob Younger e o tecladinho super-bonder de
Phillip '
Pip'
Hoyle, em canções rockers e baladas punk. Quando menos esperei, já tinha ouvido isso umas trocentas vezes.

Fico imaginando como deve ser chato pra concorrência ouvir algo tão simples como esse
False Flags e ver que ainda tem de ralar muito nas pick-ups pra chegar ao nível de sofisticação do
Massive Attack.
E é apenas um EPzinho. Duas canções que são apenas um talho do que o Massive realmente poderia fazer. Como diria Al Pacino...
"Hoo-ha".
Pra ouvir no carro, em direção ao crime.

Há tempos que um álbum de rock brasileiro não pedia tanto pelo acompanhamento de uma cerva trincando de gelada. Finalmente!
Segundo Atentado é o novo dos álcoorroristas do
Carro Bomba. Blues rock'n'roll
louder than bombs de boteco de quinta estourando os auto-falantes.
Se Lemmy ouve isso aqui, vai implorar por uma vaguinha na banda. Porrada nota 11 pra ouvir com 15 grades de Skol em prontidão no freezer.

Ouvi isto em doses cavalares. Assim como
Houses Of The Molé, de 2004, as canções de
Rio Grande Blood devem ecoar nos pesadelos de George W. Bush sobre como sair do Iraque sem entrar para História como um imbecil genocida (opa, tarde demais). O álbum inteiro é uma lajotada na cara, mas a faixa-título,
Lies Lies Lies, The Great Satan, Palestina e
Ass Clown são as melhores homenagens que o clã Bush poderia receber.
O disco mais metal do
Ministry desde... hum... pensando bem,
Rio Grande Blood é o mais metal.

Já fui fissurado no
Trail Of Dead a ponto de escrever
bêbado sobre o grupo. A veia
rock'n'roller esquizóide era irresistível. Fora o elemento
"seek and destroy" niilista... os instrumentos destruídos no palco que o digam. Mas parece que
Jason Reece e
Conrad Keely, o eixo criativo da banda, andam se achando os gênios da raça.
Limaram a zoeira
noise e a experimentação, e apostaram em arranjos perfeccionistas e melodias calculadas milimetricamente. Nada de
"fuck you" repetida 40 vezes debaixo de distorção por aqui.
Esperava mais. Ficaram parecendo o Beatles produzido pelo Jeff Lynne (lembra de
Free as a Bird?). Por várias vezes, a pretensão cutuca o limite máximo permitido. Mas o talento, no entanto, nunca esteve em falta -
Witches Web, a faixa-título e
Sunken Dreams são só pra quem pode.
 Infanticide
Infanticide, a faixa de abertura de
Confrontation Street, do
Squealer A.D., tem o efeito de uma marretada na orelha. Nas outras doze canções o alvo vai variando. O som (voadora) do Squealer parte do thrash oitentista
circa Exodus/Forbidden e o atualiza para os dias de hoje, com equipamentos de gravação mais poderosos e mais eficientes para massacres em larga escala.
Vocal do
Gus Chambers, ex-Grip Inc. - aquela banda do Dave Lombardo, do Slayer. Conhece o Slayer? Então...
 Soul Of A Man
Soul Of A Man, o novo do
Eric Burdon. Ê discão contagiante. Assessorado por uma banda afiadíssima, mr. Burdon (que fez história no
The Animals), continua com a classe e o vozeiraço de sempre. Blues, soul, gospel, rhythm'n'blues e southern rock parecem moldados sob medida pro gogó do cara.
Em algum bar de New Orleans, este disco está rolando numa velha jukebox junto com a trilha de
The Commitments.
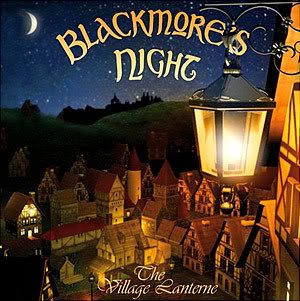
Quando o
Blackmore'
s Night estava em seus primeiros dias, eu achava que era só um agradinho que
Ritchie Blackmore resolveu fazer pra esposa,
Candice Night, até uma nova reforma do Rainbow. Dez anos depois, e lançando um álbum mais bonito que o outro, o grupo ratifica aquilo que sempre deixou evidente e que pra mim passava batido - eles estão pouco se ferrando com o mundo lá fora e fazem Arte-pela-Arte, como deveria ser sempre.
Em
The Village Lanterne, seu folk rock com elementos de música cigana e celta nunca esteve tão doce e envolvente. A voz da bela (e
simpática) Candice seduz muito mais com sutileza e simplicidade que o lirismo esganiçado de algumas vocalistas. E Ritchie, anos-luz do riff de
Smoke On The Water, faz a cama perfeita para a esposa (sem trocadilhos) com inspiradíssimos arpejos de mandolim e guitarra acústica.
Chill out puro.
Quando a versão de
Child in Time, clássico do Deep Purple, deu as caras, eu já estava tão hipnotizado pela sereia Candice, que só consegui esboçar um sorriso abobalhado. Aliás, só ela pra convencer o velho e teimoso Ritchie a tocar essa de novo...
 Peeping Tom
Peeping Tom é mais um projeto do
Mike "Fenemê"
Patton. Segundo o próprio, o objetivo é dar a sua (sub)versão para a tão amada/odiada música pop. Foi a mesma coisa que soltar um demônio da Tasmânia num estúdio de última geração. Se eu fosse dono de uma rádio FM, esse álbum não saía das 10+.
Participações especialíssimas de Norah Jones, Massive Attack e da nossa Bebel Gilberto, na sintomática
Caipirinha.
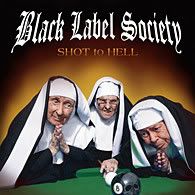 Zakk Wylde
Zakk Wylde e seu
Black Label Society nunca foram de meio-termo. Herdeiro legítimo do country/southern rock praticado por bandas como Lynyrd Skynyrd, Blackfoot, Allman Brothers, Guess Who? e sulismos afins, Zakk sempre balanceou álbuns agridoces semi-acústicos com álbuns heavy rock de trincar o crânio.
Assim sendo,
Shot To Hell pode ser encarado como o primeiro passo de Zakk em busca de um lugar comum entre os dois mundos. O álbum é quase tão introspectivo quanto o excepcional
Hangover Music Vol. VI, de 2004, e quase tão pesado quanto
Mafia, de 2005.
Ainda não está na dosagem correta, mas Zakk está
cantando melhor e a sua guitarra... bom, digamos que Ozzy ainda deve mantê-lo na banda por mais uns bons duzentos anos.
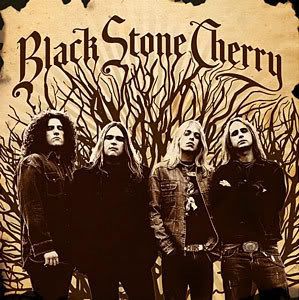 Southern rock from Kentucky
Southern rock from Kentucky. Primeiro álbum destruidor do
Black Stone Cherry! Southern e heavy hard à Mountain/Thin Lizzy com sapecadas stoner, num contexto tão acessível quanto o
Black Album, do Metallica. Todas as faixas são matadoras. Ouvi isto até furar o HD.

A
line-up instruMEnTAL do finado Pantera -
Rex Brown no baixo,
Vinnie Paul na batera e a guitarra defenestradora do saudoso
Dimebag Darrell - unindo forças com o vovô country
David Allen Coe: este é o
Rebel Meets Rebel. A banda despacha uma sonzeira
country-thrash incendiária do início ao fim. Sem falar que este crossover, além de genial, é impagável. Um dos álbuns mais divertidos do ano.
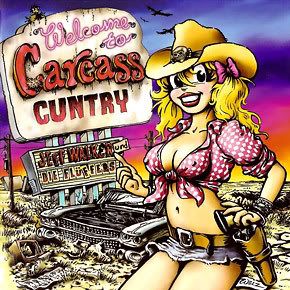 Copy/paste de um comentário meu em outro lugar:
Jeff Walker Und Die Fluffers
Copy/paste de um comentário meu em outro lugar:
Jeff Walker Und Die Fluffers é a nova banda do maluco
Jeff Walker, ex-baixista do podrão
Carcass (HuH!) e alter-ego do
El Cynico, um dos
coyotes from hell do
Brujeria. Como se pode notar, o cara não é lá muito normal, o que dá a dimensão exata do country noise metálico que o grupo pratica (ou seria "vomita"?) em
Welcome To Carcass Cuntry.
Participam da zona os também insanos
Bill Gould (ex-Faith No More),
Shane Embry (Napalm Death),
Nicke Anderson (Hellacopters),
Ville e
Gas (do HIM), e uma porrada de fugitivos do hospício (mais precisamente, da ala reservada aos doentes perigosos). Pra deixar a coisa mais 'instigante', o tracklist deste álbum de estréia é composto por covers de clássicos do blues, country e rock'n'roll.
De resto, só digo que o disco abre com
The Man Comes Around (
Johnny fuckin' Cash) e fecha com
Keep On Rockin' In The Free World (
Neil hyper-fuckin' Young).
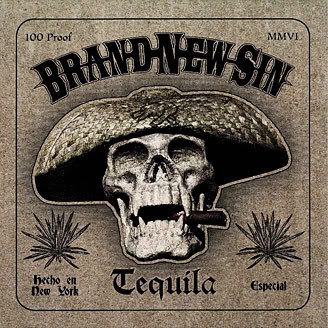
Tenho de admitir que escutei
muito southern rock em 2006. Também nunca matei tantas garrafas de Chivas e Red Label.
Brand New Sin, banda parceira de estrada do Black Label Society, chega ao arregaçante terceiro disco me intimando a mudar de bebida. Enquanto preparo o sal e os limões, vou curtindo a trilha - guitarras áridas, bateria esmagadora e vocais curtidos em conhaque de alcatrão garantem um porre de qualidade.
Me gusta Tequila, mucha Tequila!
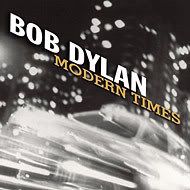
E o velho Zimmerman segue inabalável e esfregando na cara do mundo o quanto a mardita cultura popular americana é do cacete. O discurso em
Modern Times está mais ácido e cínico, e a sonoridade resgata a blueseira de boteco vagabundo.
Destaque para a deliciosa faixa de abertura,
Thunder of the Mountain, que tem Alicia Keys no piano, para o arrasta-pé com letrinha sacana de
Someday Baby, e para a sensacional
Rollin' and Tumblin', cover do cover de Muddy Waters, que deve ter embalado várias cachaçadas do pessoal do Reverend Horton Heat.
Bob Dylan ainda é o cara.

O new beat trip hop tecnudo do
Gnarls Barkley transcendeu a "mera" discussão sobre música e cravou sua
Crazy ainda no formato de mp3 no topo das paradas, uma semana antes do lançamento oficial. Se a indústria precisava de alguma evidência de que as regras do jogo
já mudaram,
St. Elsewhere deu o testemunho final. Talvez o que aconteceu com
Crazy tenha sido o símbolo máximo dessa virada histórica.
Sem falar que desde de
Speakerboxxx/The Love Below, do Outkast, não aparecia uma compilação tão chicleteira de hits.

Obviamente, só tive interesse em conhecer a banda por causa da capa. Os caras realmente sabem como chamar a atenção. O som do
Hydrogyn é uma cruza hard entre Bliss e Heart, com peso na medida e refrães ganchudos. A cantora
Julie Westlake, além de
absurda...




...
canta muito bem também. Minhas favoritas deste
Bombshell (títulozinho mais do que
apropriado) são
Breaking Me Down,
Look Away SP e
Vesper's Song, que eu chamo carinhosamente de 'melô do celular'. Hits fáceis.
Ps.: Numa das versões do álbum, tem um cover de Back In Black, em que a moça segura firme e forte. Em outra versão, ela cai de boca em 18 And Life, do Skid Row. Dá-lhe Julie!
 From Dusk Till Doom
From Dusk Till Doom, do
Stonegard, é mutcho loco mermão! O grupo norueguês não respeita limites musicais no doom metal que pratica, trafegando sem cerimônia pelo stoner, death, thrash e até por incursões progressivas/ssistas, sempre com energia aos borbotões.
Mas o maior diferencial é um certo tino pop permeando todas as faixas. Usado a favor do time, tem grandes resultados. Num momento, eles mandam passagens suaves e refrães grudentos que poderiam entrar fácil na grade de qualquer FM, e no momento seguinte, é a trilha sonora de uma avalanche provocada por um vulcão em erupção.
Stonegard é o primo adolescente e metalêro do Tool trampando de
roadie no System Of A Down.

Discaço de
party rock:
What Apology, estréia solo do guitarrista
Günter Schulz (ex-KMFDM). Este álbum é rápido, ganchudo, ensolarado e festeiro.
Metal, industrial, hardcore e new wave batidos num liquidificador junto com várias substâncias ilegais. Algo ali entre Young Gods, Devo e Therapy?. A rifferama da oitava faixa,
Fear Tactic, remete ao Sepultura fase
Arise, mas à esta altura todo mundo já deverá estar pra lá chapado.
E não é à toa que Schulz é considerado um dos melhores guitarristas do gênero. Confira só a
Love Will Tear Us Apart do cara, em versão hard rock pumperô.

Sempre surpreendendo. O combo esloveno
Laibach já fez muita coisa desde que foi formado, em 1980 (incluindo uma versão electro-industrial pro disco
Let It Be, dos Beatles). Agora, com
Volk, o grupo quer abraçar o mundo: cada uma das 14 faixas tem o nome de um país diferente, com trechos de seus hinos no idioma original e participação de artistas daquela nacionalidade.
Talvez o fato dos integrantes terem testemunhado uma guerra de perto (a Eslovênia era parte da Iugoslávia), os inspirou a fazer deste álbum um projeto tão humanista e tão... "globalizado" (ops). O resultado ficou emocionante. Todas as faixas são excelentes e por muito tempo depois você vai descobrindo novos detalhes que mudam o cenário inteiro. Minhas preferidas são a irônica
America (
"O'er the land of the freeee..."), a estilosa
Anglia,
Rossiya (com um coralzinho de crianças maneiro) e a quase-darkwave
Spania.
Um dos raros discos em que o resultado justifica a pretensão.

Em
Monochrome, o
Helmet retornou à essência do hardcore cerebral que praticava nos primeiros álbuns. É o disco que mais lembra
Meantime, seu mega-sucesso de 92.
Return to roots total. Está tudo lá: o peso sabbáthico, os vocais de pitbull raivoso e os riffs pára-e-começa. Faltou apenas o jazz (lembra do jazz que tinha?).
Só não sei se a banda ainda tem aquele público que curtia isso tudo na época. Daquele povo todo, acho que só sobrou eu.

Extensas incursões melódicas, tecladões épicos, guitarras esparsas e o vocal olímpico de
Bruce Dickinson compõem
A Matter Of Life And Death, o álbum mais progressivóide desta nova fase do
Iron Maiden. É notável o fôlego de guerreiro asgardiano dos caras, depois de quase trinta anos de guitarrada na cabeça.
Brighter Than A Thousand Suns, The Pilgrim e
a faixa-título The Reincarnation Of Benjamin Breeg são trilha pra lutar ao lado do Rei Conan no exército da Aquilônia. E, de preferência, morrer logo em combate pra curtir a eternidade ao lado de belas Valkírias.
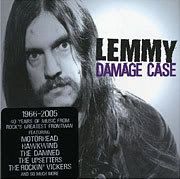 Damage Case
Damage Case é uma sensacional antologia da carreira de
sir Ian Fraser Kilmister, o
Lemmy, do
Motörhead. Cobre nada menos que
39 anos (1966-2005) de bons serviços ao rock'n'roll.
Antes de encher a cara ouvindo isto aqui, confira os primórdios de Lemmy no
Rockin'
Vickers e na excelente
Sam Gopal (aqui, já como vocalista/baixista). Também tem três do alucinógeno
Hawkwind, incluindo a clássica
Motorhead, e as parcerias com a "prima"
Wendy O.
Williams, com os protopunks do
The Damned, com
Danny B e
Slim Jim (do
Stray Cats), e a dobradinha com
Dave Grohl no projeto
Probot.
Entre uma e outra, balaços do
Motörhead e os covers de
Tie Your Mother Down (Queen),
Whiplash,
Enter Sandman (ambas do Metallica) e
The Trooper (Iron Maiden).
Lemmy is God!

Mais um dia no escritório do
Motörhead. Larga tudo e vá beber cerveja!

No fim das contas, o
Muse é rock. Não importa de que jeito. Os caras não se furtam em esmerilhar nos arranjos, na dramaticidade, grandiosidade, soluções melódicas inusitadas e nas nuances tortuosas dos vocais. E ainda subvertem a tríade guitarra-baixo-bateria a tal ponto que desconstrói uma a uma das convenções empilhadas na clicherama que as rádios e a MTV empurram goela abaixo com o rótulo de 'novidade'.
Black Holes And Revelations foi um dos álbuns mais instigantes do ano, e eu ainda estou intrigado com ele. Novas
sessions no fone de ouvido se fazem necessárias.
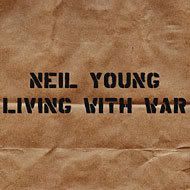 Living With War
Living With War vai direto na veia e diz logo a que veio. Só de correr o olho no
tracklist, você já imagina o que vem por aí. Desde
Ohio que eu não vejo (ouço) o
Neil Young tão injuriado.
Uma coisa é ouvir o Ministry falando mal. É fácil não levar à sério... aquele bando de (cyber)punks. Agora, ouvir de alguém como o Neil Young...
Presidente Bush... se mata.

O
RDP faz crônica urbana direto das trincheiras. O novo disco,
Homem Inimigo do Homem, mostra a banda "cada dia mais suja e agressiva". Um furacão sônico. Até agora tô procurando o rumo de casa.
PMs de Satã, Covardia de Plantão e
Otário Involuntário já são hinos HC, mas só o fato das florzinhas EMO terem sido estraçalhadas em
O Equivocado, já vale o disco.

Solo ou ao lado dos Heartbreakers,
Tom Petty é um dos maiores artistas já surgidos na América. E só melhora com o passar dos anos.
Highway Companion parece atestar isso em belíssimas
rock and roll songs. Simplesmente perfeito.
Ps.: O pessoal do Red Hot Chili Peppers adora.
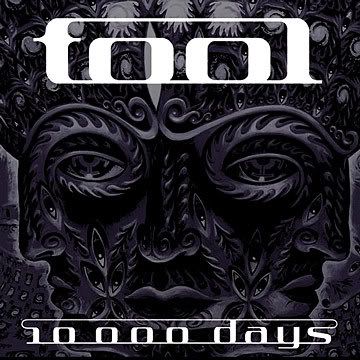
E lá se vão bons 15 anos desde
Opiate, EPzinho de estréia do
Tool. Nosso monstrinho cresceu. E está doido pra sair do porão.
10,
000 Days deveria vir com o aviso:
"Deixai toda a esperança, vós que entrai".
O que se ouve aqui é a ambiência do inferno - instintivo, enegrecido, primal e violento. A sexagésima sexta descendência dos pesadelos de Robert Fripp. É o Pink Floyd, depois de lamber todas as cartelas de ácido de Syd Barrett. Decadente, surreal, opressivo, claustrofóbico, matemático e escrotamente orgânico.
Tool faz na música o que David Lynch faz no cinema e Alan Moore faz nos quadrinhos. É o Augusto dos Anjos do rock.

Jackson, Mississipi. Num calor infernal, no meio de lugar nenhum, três amigos -
Peter Hayes,
Robert Levon Been e
Nick Jago - fanáticos por blues, folk e gospel, partem sorrindo de uma encruzilhada em direção ao estúdio mais próximo. O resultado foi o excelente
Howl, de 2005.
O EP
Howl Sessions mantém a chama acesa até o próximo pacto do
Black Rebel Motorcycle Club. Onde quer que esteja, Robert Johnson está sorrindo e balbuciando
"ooo yeah..."
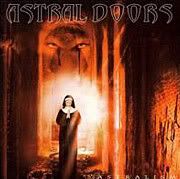
Quem conhece o sueco
Astral Doors já sabe o que esperar de
Astralism: a recriação do espírito do Rainbow e dos primeiros solos de Ronnie James Dio para os dias atuais, com ataque preciso e produção irretocável.
O perfeito entrosamento de teclado/guitarra, e o vocal raçudo de
Nils Patrik Johansson levam o ouvinte de volta no tempo - mais precisamente para alguma apresentação do Dio em 1983, turnê do
Holy Diver...
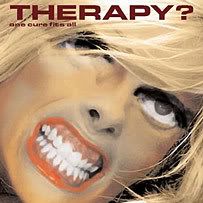 Andy Cairns
Andy Cairns & crew chegaram quebrando tudo em 2006 com
One Cure Fits All. O
Therapy? continua aquela usina de ritmos caóticos, baixo pulsante e um paredão de guitarras de moer o cérebro. Hardcore, metal, pós-punk, alternativo, noise, surf music... eles jogam tudo no mix até virar uma coisa só.
Se nos discos anteriores, o grupo andava meio perdido em busca do refrão FMístico perfeito, aqui eles rebuscam a sonoridade visceral e crua dos primeiros discos (
Fear Of God poderia ser uma faixa do pesadão
Nurse, de 1992).
Só não digo que é o melhor do Therapy? porque em 94 eles gravaram
Troublegum.

Rá-rá! E não é que editaram a capa de
Christ Illusion, do
Slayer!
O terceiro melhor álbum da banda, na minha opinião. Slayer é isto aí.
Slaayeeeer!!
Ps.: apesar disso tudo, o baixista/vocalista Tom Araya é religioso e acredita em Deus. Seria ele um legítimo "traidor do movimento"? :-)
 Whatever People Say I Am, That's What I'm Not
Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, estréia do
Arctic Monkeys (não confundir com o
"Sonic Death Monkeys"...). Detesto participar de coro, mas tenho de admitir... este álbum é muito bacana!
O que me pegou foi a linha de baixo. Legal bagaráe.

Tem bandas que passam pela maior crise de identidade só porque mudou um pouco a afinação dos instrumentos. O
Evergrey prefere abordar novos fronts de maneira mais evolutiva.
Em
Sunday Morning Apocalypse, a sonzeira continua
aquele diamante lapidado, mas nota-se ligeiras modificações na estrutura. Está tudo mais simples, mais fácil. Até mais pop, eu diria. Ouça a faixa
Lost e veja se não rola tranqüila nas rádios. Tem até o apelo do nome.
O Evergrey sinaliza novos rumos e o faz com a competência e a classe de sempre. Aprenda, Stratovarius.

Caralho. Os caras tão putos!

Em
Come Clarity, o
In Flames fez o death metal mais bonito que eu já ouvi. É bonito mesmo. Provaram que há beleza no caos.
Aliás, esta beleza bem poderia ser
Lisa Miskovsky, que canta docemente na faixa
Dead End.
Loucura -
loucura -
loucuraaa...
 Revolting Cocks
Revolting Cocks (
aka RevCo) é o pessoal do
Ministry + péssimas amizades (
Gibby Haynes, do Butthole Surfers, e
Jello Biafra, ex-Dead Kennedys, entre "outros") + putas & drogas, numa festa de arromba no estúdio.
Pelo jeito, o rock desta vez foi dos bons.
Cocked & Loaded consegue ser tão vulgar e chapado quanto o clássico
Linger Ficken' Good, de 93.
 Eagles Of Death Metal
Eagles Of Death Metal não, Eagles Of Rock And Roll!
Death By Sexy é festa na garagem.
Yeah!
Anexo de saideira:
Dando uma de
umlaut... não tem nada a ver com o que rolou em 2006, mas não custa nada "eternizar"
on-line boas (ótimas) lembranças...
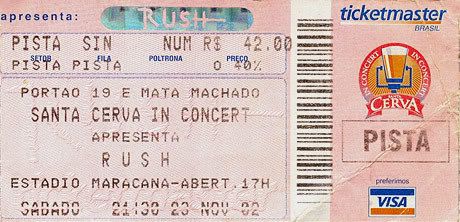

Foram fodas. Devia ter guardado o do Motörhead, o do Deep Purple...
Este post é humildemente dedicado ao eterno Godfather of Soul, mister James Brown.










 Invejo pessoas que conseguem, do nada, inventar estórias que prendem a atenção. Claro, não são inventadas exatamente do nada. Se não forem inspiradas por outras leituras, são minimamente inspiradas em suas histórias de vida, mas ainda assim acho admirável conseguir construir um ambiente auto-suficiente, com um mínimo de originalidade, seja nos elementos e seu encadeamento ou a simples forma de contar algo que até já existe. Invejo mais ainda aqueles que não se bastam em contar aquela estória, mas acabam criando uma mitologia própria, com suas leis, sua ordem, sua lógica particular; dão seu nome a um universo. Conhecia poucos que fizeram isto e conseguiram reconhecimento legítimo: Tolkien e George Lucas são expoentes mais óbvios, mas temos ainda, em escopo menor, Monteiro Lobato. Estes exemplos são diferentes do universo de Star Trek e Nárnia, por exemplo, já que o primeiro não foi idealizado por uma pessoa e o segundo é mera derivação do que já existia. Em paralelo, há diversas outras publicações que, se não conseguem criar uma mitologia propriamente dita, ao menos seguem um encadeamento temático que reforça um gênero, como as do Guia do Mochileiro das Galáxias, Fronteiras do Universo e outras.
Invejo pessoas que conseguem, do nada, inventar estórias que prendem a atenção. Claro, não são inventadas exatamente do nada. Se não forem inspiradas por outras leituras, são minimamente inspiradas em suas histórias de vida, mas ainda assim acho admirável conseguir construir um ambiente auto-suficiente, com um mínimo de originalidade, seja nos elementos e seu encadeamento ou a simples forma de contar algo que até já existe. Invejo mais ainda aqueles que não se bastam em contar aquela estória, mas acabam criando uma mitologia própria, com suas leis, sua ordem, sua lógica particular; dão seu nome a um universo. Conhecia poucos que fizeram isto e conseguiram reconhecimento legítimo: Tolkien e George Lucas são expoentes mais óbvios, mas temos ainda, em escopo menor, Monteiro Lobato. Estes exemplos são diferentes do universo de Star Trek e Nárnia, por exemplo, já que o primeiro não foi idealizado por uma pessoa e o segundo é mera derivação do que já existia. Em paralelo, há diversas outras publicações que, se não conseguem criar uma mitologia propriamente dita, ao menos seguem um encadeamento temático que reforça um gênero, como as do Guia do Mochileiro das Galáxias, Fronteiras do Universo e outras. O livro já tem 25 anos e contando. A literatura, aliás... a cultura de ficção científica ao longo deste tempo esgotou uma série de possibilidades que, hoje, fica difícil dizer quem influenciou quem e, mais importante, quem teve a sacada original. Meses atrás, conversando com o Doggma, comentei ter visto na véspera Duro de Matar e achava, depois de tantos anos desde que vi pela primeira vez, que o filme era uma sucessão de clichês. Ele retrucou dizendo que, na verdade, não era uma sucessão de clichês, mas a criação deles. Na época, aquilo era original. Isto muda muito o impacto que a estória tem para quem lê/vê. Não digo que O Jogo do Exterminador é uma compilação de fórmulas, longe disto, mas algumas das soluções apresentadas ao longo do livro parecem fáceis, simples, sem muita elaboração, o que não quer dizer que sejam triviais. Apenas não surpreendem em alguns momentos. Mesmo assim, paradoxalmente, percebe-se que Card tenta fugir de algumas situações-padrão, o que pode ser resultado das revisões que o texto recebeu desde que era um conto publicado em uma revista, até se tornar um livro completo. Em dado momento, achava que Card se perdia ao dar um comportamento e texto adulto para uma criança de 6 anos - não entrarei no mérito de superdotados portarem-se ou não daquele jeito - , mas depois percebi que a opção não foi mero elemento de roteiro. Ao optar pelo uso de uma criança, o livro atinge em cheio o público infanto-juvenil e seus conflitos, mais especificamente os daqueles jovens que têm algum tipo de sentimento de solidão, segregação. Entretanto, o comportamento e linguagem mais madura sem ser rebuscada (com concessões pueris óbvias, como o nome dado aos alienígenas) deixa a porta aberta para o público mais maduro e de mente aberta. Neste ponto, Card consegue ser minucioso em alguns detalhes. O nome do personagem, Ender Wiggin, tem algumas interpretações livres. Ender é quase um anagrama perfeito de “Nerd” e Wiggin tem sonoridade semelhante a “Winning”. Mas Ender é ainda uma brincadeira com “End” e “er”, partícula que, em inglês, denota autor de uma ação. Assim, Ender seria um Terminator, um Nerd Exterminador até no nome. Que criança solitária não encontra conforto em se ver ali?
O livro já tem 25 anos e contando. A literatura, aliás... a cultura de ficção científica ao longo deste tempo esgotou uma série de possibilidades que, hoje, fica difícil dizer quem influenciou quem e, mais importante, quem teve a sacada original. Meses atrás, conversando com o Doggma, comentei ter visto na véspera Duro de Matar e achava, depois de tantos anos desde que vi pela primeira vez, que o filme era uma sucessão de clichês. Ele retrucou dizendo que, na verdade, não era uma sucessão de clichês, mas a criação deles. Na época, aquilo era original. Isto muda muito o impacto que a estória tem para quem lê/vê. Não digo que O Jogo do Exterminador é uma compilação de fórmulas, longe disto, mas algumas das soluções apresentadas ao longo do livro parecem fáceis, simples, sem muita elaboração, o que não quer dizer que sejam triviais. Apenas não surpreendem em alguns momentos. Mesmo assim, paradoxalmente, percebe-se que Card tenta fugir de algumas situações-padrão, o que pode ser resultado das revisões que o texto recebeu desde que era um conto publicado em uma revista, até se tornar um livro completo. Em dado momento, achava que Card se perdia ao dar um comportamento e texto adulto para uma criança de 6 anos - não entrarei no mérito de superdotados portarem-se ou não daquele jeito - , mas depois percebi que a opção não foi mero elemento de roteiro. Ao optar pelo uso de uma criança, o livro atinge em cheio o público infanto-juvenil e seus conflitos, mais especificamente os daqueles jovens que têm algum tipo de sentimento de solidão, segregação. Entretanto, o comportamento e linguagem mais madura sem ser rebuscada (com concessões pueris óbvias, como o nome dado aos alienígenas) deixa a porta aberta para o público mais maduro e de mente aberta. Neste ponto, Card consegue ser minucioso em alguns detalhes. O nome do personagem, Ender Wiggin, tem algumas interpretações livres. Ender é quase um anagrama perfeito de “Nerd” e Wiggin tem sonoridade semelhante a “Winning”. Mas Ender é ainda uma brincadeira com “End” e “er”, partícula que, em inglês, denota autor de uma ação. Assim, Ender seria um Terminator, um Nerd Exterminador até no nome. Que criança solitária não encontra conforto em se ver ali?





 Registro surpreendente este do VAST. E 100% outsider no que se refere ao famigerado "esquemão" ('jabá', aqui no Brasil).
Registro surpreendente este do VAST. E 100% outsider no que se refere ao famigerado "esquemão" ('jabá', aqui no Brasil). She Wants Revenge provou com este disco que tem mais que um nome bacanudo. É bastante influenciado pelo... ah, influenciado não... overdosado... bêbado... fumado... cheirado pelo Joy Division. Talvez fosse o que o JD estivesse fazendo hoje se Ian Curtis preferisse um suicídio homeopático à base de ecstasy. Ritmos em sua maioria cadenciados, drum-machines batendo forte no peito, baixão escaneado de Peter Hook e climão sorumbático de rendez-vous gótico.
She Wants Revenge provou com este disco que tem mais que um nome bacanudo. É bastante influenciado pelo... ah, influenciado não... overdosado... bêbado... fumado... cheirado pelo Joy Division. Talvez fosse o que o JD estivesse fazendo hoje se Ian Curtis preferisse um suicídio homeopático à base de ecstasy. Ritmos em sua maioria cadenciados, drum-machines batendo forte no peito, baixão escaneado de Peter Hook e climão sorumbático de rendez-vous gótico.
 Surgido em 1974, o
Surgido em 1974, o  Fico imaginando como deve ser chato pra concorrência ouvir algo tão simples como esse False Flags e ver que ainda tem de ralar muito nas pick-ups pra chegar ao nível de sofisticação do Massive Attack.
Fico imaginando como deve ser chato pra concorrência ouvir algo tão simples como esse False Flags e ver que ainda tem de ralar muito nas pick-ups pra chegar ao nível de sofisticação do Massive Attack. 

 Já fui fissurado no Trail Of Dead a ponto de escrever
Já fui fissurado no Trail Of Dead a ponto de escrever 

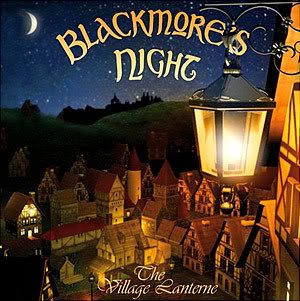

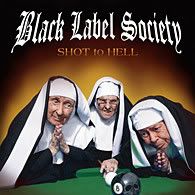 Zakk Wylde e seu Black Label Society nunca foram de meio-termo. Herdeiro legítimo do country/southern rock praticado por bandas como Lynyrd Skynyrd, Blackfoot, Allman Brothers, Guess Who? e sulismos afins, Zakk sempre balanceou álbuns agridoces semi-acústicos com álbuns heavy rock de trincar o crânio.
Zakk Wylde e seu Black Label Society nunca foram de meio-termo. Herdeiro legítimo do country/southern rock praticado por bandas como Lynyrd Skynyrd, Blackfoot, Allman Brothers, Guess Who? e sulismos afins, Zakk sempre balanceou álbuns agridoces semi-acústicos com álbuns heavy rock de trincar o crânio.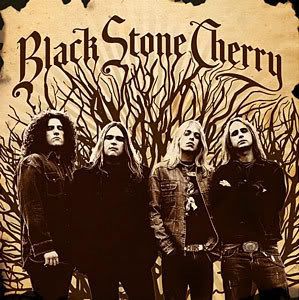

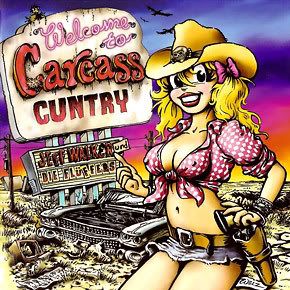
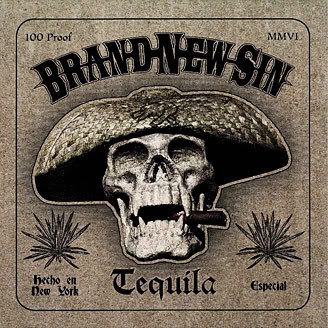
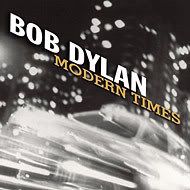 E o velho Zimmerman segue inabalável e esfregando na cara do mundo o quanto a mardita cultura popular americana é do cacete. O discurso em Modern Times está mais ácido e cínico, e a sonoridade resgata a blueseira de boteco vagabundo.
E o velho Zimmerman segue inabalável e esfregando na cara do mundo o quanto a mardita cultura popular americana é do cacete. O discurso em Modern Times está mais ácido e cínico, e a sonoridade resgata a blueseira de boteco vagabundo. 










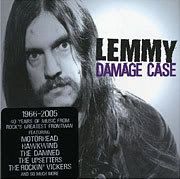 Damage Case é uma sensacional antologia da carreira de sir Ian Fraser Kilmister, o Lemmy, do Motörhead. Cobre nada menos que 39 anos (1966-2005) de bons serviços ao rock'n'roll.
Damage Case é uma sensacional antologia da carreira de sir Ian Fraser Kilmister, o Lemmy, do Motörhead. Cobre nada menos que 39 anos (1966-2005) de bons serviços ao rock'n'roll.

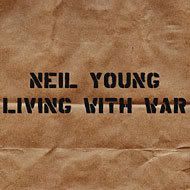


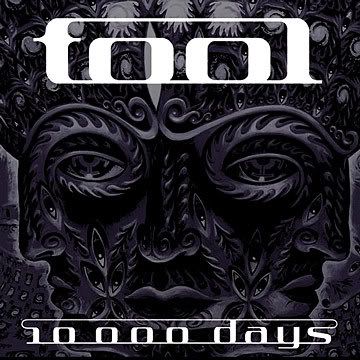
 Jackson, Mississipi. Num calor infernal, no meio de lugar nenhum, três amigos - Peter Hayes, Robert Levon Been e Nick Jago - fanáticos por blues, folk e gospel, partem sorrindo de uma encruzilhada em direção ao estúdio mais próximo. O resultado foi o excelente Howl, de 2005.
Jackson, Mississipi. Num calor infernal, no meio de lugar nenhum, três amigos - Peter Hayes, Robert Levon Been e Nick Jago - fanáticos por blues, folk e gospel, partem sorrindo de uma encruzilhada em direção ao estúdio mais próximo. O resultado foi o excelente Howl, de 2005.