
Quando pensamos em elementos cuja simples existência nos dá a percepção do sentimento de relação próxima e direta, composições clássicas de modelos que funcionam – mesmo que minimamente próximo ao que se espera - sempre tendem as opiniões para o continuísmo. A mudança brusca sempre é temerária. É o medo do desconhecido, de como aquilo pode funcionar. No serviço público, por exemplo, por pior que seja o setor em que trabalhe, quando o cargo majoritário é alternado pelo voto, sempre (raras exceções que confirmam a regra) surge aquela dúvida:"Oh... e agora? O que será de nós?" (pelo menos para quem trabalha e gosta de trabalhar). A troca de colégio na infância trazia o mesmo sentimento, bem como a expectativa de terminar um namoro que não dá certo simplesmente porque se acostumou à presença da pessoa. Não sei se é porque costumo ser do contra, mas a mudança de ambientes sempre me agradou, por maior apreensão que o desconhecido cause. Mudanças arejam idéias, trazem revisões de conceitos, remodelam formas que há muito precisam ser remodeladas e atualizam o ambiente.
A relação que tenho com os quadrinhos - e, creio, não deve ser diferente da maioria das pessoas que se permitiram apaixonar por este veículo (o que traz à baila também a discussão do preconceito pelas HQ's, coisa para um post separado ou para a Área Azul) – é muito pessoal. A espera pelo lançamento de determinado título, as flutuações de humores com o que fazem com determinado personagem, as indignações que emergem de "injustiças" e reações afins dão um sentimento de intimidade ímpar. É natural, portanto, que mudanças em personagens sejam chocantes, mesmo que mantenham sua essência. Tenho lido por aí muitas opiniões desancando o novo visual do Homem-Aranha, colocando como se fosse uma atrocidade inafiançável. Sinceramente? Eu gostei! Sei que é temporária (quem sabe me engano) e serve apenas a: 1 – criar um hype interessante às vendas, e; 2 – criar elemento adicional para a "saga do ano", Civil War. Claro, Millar nos roteiros, com o sucesso estrondoso e incontestável de Ultimates ainda ecoando alto no córtex e um racha no casal 20 dos casais 20 das superequipes (Homem de Ferro e Capitão América) já seriam mais do que atrativos para tornar a saga indispensável sob o ponto de vista de expectativa, mas, se dá para salgar um pouco a sopa numa polêmica com o personagem mais popular da casa, tanto melhor!
 O engraçado é que estou vendo uma reação muito parecida com a que percebi lá pelos anos 80, quando o herói azul e vermelho ficou preto. Não havia internet, claro, mas era leitor assíduo da seção de cartas e, logo após as Guerras Secretas (acho que por volta da edição 70 da editora Abril), a ojeriza apresentada pelos leitores àquela novidade era pungente. Eu até estranhei no começo, mais pelo costume com o antigo do que propriamente por achar ruim, mas lembro claramente que gostei. E muito! Claro, com a tecnologia de publicação da época, um uniforme eminentemente negro perdia um pouco de qualidade gráfica – tons de cores, por exemplo – mas o resultado geral, principalmente as alterações naturais no comportamento do personagem, foram, por falta de palavra melhor, do caralho! A fase estendeu-se até a edição "105, quando Peter o abandonou oficialmente, mas não definitivamente. Acontece então a reação contrária: seções de cartas agora imploram para que ele não aposente a aranha branca. Que, ao menos, o alterne com o clássico. E de vez em quando ainda o vemos com um dos visuais mais bacanas já criado para um herói.
O engraçado é que estou vendo uma reação muito parecida com a que percebi lá pelos anos 80, quando o herói azul e vermelho ficou preto. Não havia internet, claro, mas era leitor assíduo da seção de cartas e, logo após as Guerras Secretas (acho que por volta da edição 70 da editora Abril), a ojeriza apresentada pelos leitores àquela novidade era pungente. Eu até estranhei no começo, mais pelo costume com o antigo do que propriamente por achar ruim, mas lembro claramente que gostei. E muito! Claro, com a tecnologia de publicação da época, um uniforme eminentemente negro perdia um pouco de qualidade gráfica – tons de cores, por exemplo – mas o resultado geral, principalmente as alterações naturais no comportamento do personagem, foram, por falta de palavra melhor, do caralho! A fase estendeu-se até a edição "105, quando Peter o abandonou oficialmente, mas não definitivamente. Acontece então a reação contrária: seções de cartas agora imploram para que ele não aposente a aranha branca. Que, ao menos, o alterne com o clássico. E de vez em quando ainda o vemos com um dos visuais mais bacanas já criado para um herói.O fato é que, com um personagem criado na década de 60, com tantos outros criados com características semelhantes, na mesma época e compartilhando cenários e contextos praticamente idênticos, inovação com os mesmos ingredientes com mais de 4 décadas de fermentação passa a ser trabalho possível apenas com pacto demoníaco, no mínimo. Mesmo com as atualizações conjunturais e de contexto – globalização, política regional e/ou geral, amadurecimento de argumentos e roteiros para um público que também amadureceu, artifícios gráficos mais realistas, liberdades de expressão etc – é impossível não fazer o personagem incorrer em revisões do mesmo tema sem alterá-lo. O uniforme negro foi uma tentativa. Personagem ficava mais dark, facilidades com a "roupa viva" criavam situações inovadoras e ainda deram um vilão carismático, mas desperdiçado com o tempo. Particularmente, já há alguns anos venho pensando que os heróis, por mais identificados que sejam com o público, têm que morrer (e permanecerem mortos). Só assim o conceito que ele carrega pode ser reeditado em novo alter ego, mas com alterações que não fazem os fãs reclamarem, já que é, em tese, outro personagem. Vejam, por exemplo, Batman Beyond, Ultimates e Supreme Power.

Só que matar um personagem é muito complicado. A opinião pública ruge e sua volta urge (eca!). Então só uma mente muito criativa para tentar reavivá-lo. E voltamos então para o contexto do novo uniforme do Aranha. Na verdade, a tentativa de revitalização do personagem vem bem antes do novo uniforme. Começa uns 2 ou 3 anos atrás quando Straczynski assumiu o título. Entre altos e baixos, acho que ele acertou muito mais do que errou – e certamente ousou muito mais do que seus antecessores mais recentes. Re-contextualizou sua condição aracnídea que, mesmo com os já citados altos e baixos, apresentou produtos muito bons. Morlun, por exemplo, é um dos personagens mais interessantes já criados como antagonista. Assim foi Ezekiel. O problema destes dois personagens é que eles são perecíveis, ou seja, são interessantes, suportam e dão sustância ao cenário em que está imerso o personagem, mas suas motivações de existência rapidamente se extinguem. E Straczynski os mata. Morlun, diga-se de passagem, é fisiológico, básico, elementar. Seu propósito é raso, mas justamente por isto sua aparição nos dá as porradarias mais honestas que Peter poderia participar. O pau come solto, sem freios, sem consciência, sem preocupações a não ser a própria sobrevivência - o resultado é impressionante (claro, contribuem bastante John Romita Jr, na primeira ocasião, com sua arte de dinamismo raro e Mike Deodato, na segunda ocasião, em sua fase realista). A revitalização contou também com o reforço do lado pessoal do personagem, ao colocá-lo como professor em um colégio. Sacada de mestre, mesmo que tenha sido desperdiçada com o tempo.

Difícil ver Peter se soltando deste jeito. Clique sobre a imagem
para ver maior. A conclusão da luta está aqui
Mesmo assim, com 2 ou 3 anos no cargo e obrigações impostas ao personagem por títulos paralelos e fora de seu domínio (Avengers Disassembled, New Avengers), o próprio Straczinsky deve ter percebido que as linhas estavam convergindo demais e logo cairia no lugar comum. Surge então a saga The Other. Foi coisa grande. Apesar de cumprir um período comum para arcos de heróis, 4 meses, tomou conta de 3 publicações distintas (Amazing, Friendly Neighborhood e Marvel Knights) deste período. A coisa toda oscilou entre o muito bom e o muito ruim. As linhas gerais, parece, foram definidas por ele, bem como o roteiro/argumentos da Amazing, mas esta função foi delegada a terceiros nas outras publicações, o que explica a oscilação de qualidade. Viagens no tempo, Wakanda e Tia May/Mary Jane com armaduras do Homem de Ferro foram de doer, mas se esquecermos estas partes, o todo fica legal. Ele tentou ali remodelar o personagem com um renascimento. Novos poderes, destruição de passado que não fosse importante etc. A relação dele com as capacidades de uma aranha foi fantástica – o ferrão, a visão no escuro, o sensor de vibrações em sua teia – é realmente o alcance total do que o conceito original previa. A forma como ele foi conhecendo suas novas características trouxe consigo nostalgia poderosa, fazendo quem lê rememorar como ele descobriu os poderes originais lá nos idos de Stan Lee. Entretanto, tão logo acabou The Other (diga-se de passagem, a melhor luta que já vi nos últimos tempos do Homem-Aranha está aqui), estas novas características não foram novamente abordadas, assim como a vida de professor quase não é vista mais. Creio que seja pela prioridade dada a Civil War, mas espero ver como isto desenvolver-se-á após a saga.
O último artifício da recriação do herói foi o novo uniforme. Seu "funcionamento" é forçado demais, mas suas possibilidades são inúmeras, criando novamente um lastro de combinações de roteiro até que nova revolução se faça necessária. Claro, na minha opinião as outras "pernas" da aranha são toscas, mas os outros elementos "funcionam" bem. Até ressuscita características clássicas e abandonadas como as teias embaixo das axilas que permitem planar e o simbionte que poderia simular qualquer vestimenta – inclusive o uniforme convencional.
O importante nisto tudo é que a revolução dos elementos do conceito existe. Mas a essência do personagem permanece.
Que as mudanças sejam bem-vindas!
Artigos Anteriores Relacionados:
Artigo 1 - Ultimates Cartoon - 02/03/2006
Artigo 2 - Ultimates v2, parte 2 - 16/01/2006
Artigo 3 - New Avengers - 15/01/2006
Artigo 4 - Ultimates v2, parte 1 - 14/04/2005
Artigo 5 - Avengers Disassembled - 28/01/2005
Artigo 6 - Homem-Aranha - Jean DeWolf - 15/06/2005
Artigo 7 - Ultimates v1 - 07/06/2004


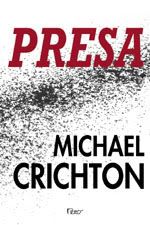 Não vou revelar muito sobre o que vejo nos torrents, mas quem acompanha pela AXN já viu o que tem dentro da escotilha, o que tira parte da aura mística dos eventos, mas não diminui o mistério. Dadas as variadas formas em que os absurdos ocorrem no local: curas milagrosas, ursos polares, materializações de pessoas mortas, monstros gigantes, fumaça assassina e mais algumas que serão vistos nos capítulos do porvir, minha lógica limitada já tinha cansado de tentar entender o que poderia estar a ocorrer com o gajos, ora pois. Já deixava rolar no automático, até porque assim seria mais fácil de ser surpreendido no futuro. Eis que surge em minhas mãos o livro
Não vou revelar muito sobre o que vejo nos torrents, mas quem acompanha pela AXN já viu o que tem dentro da escotilha, o que tira parte da aura mística dos eventos, mas não diminui o mistério. Dadas as variadas formas em que os absurdos ocorrem no local: curas milagrosas, ursos polares, materializações de pessoas mortas, monstros gigantes, fumaça assassina e mais algumas que serão vistos nos capítulos do porvir, minha lógica limitada já tinha cansado de tentar entender o que poderia estar a ocorrer com o gajos, ora pois. Já deixava rolar no automático, até porque assim seria mais fácil de ser surpreendido no futuro. Eis que surge em minhas mãos o livro 

 Este local aqui não é muito usado para este tipo de texto, mas, como não deixa de ser uma mídia e definitivamente é veículo de cultura e entretenimento, vou falar sobre livros. Como todas as coisas, abordar este "negócio" tem um/vários lado(s) ruim(ns) e um/vários lado(s) bom(ns). Ruim pois é mais difícil inserir imagens com adesão satisfatória ao que se aborda, algo que textos sobre quadrinhos, música e filmes tem em abundância. Ruim também porque as imagens dão ritmo a textos longos – característica deste blog - , como pontos de descanso em uma trilha. E bom, pois, como não há precedentes por estas bandas, as reações ao texto são inteiramente novas, assim como novas pessoas podem surgir pelos comentários se o assunto falar mais ao pé d'ouvido.
Este local aqui não é muito usado para este tipo de texto, mas, como não deixa de ser uma mídia e definitivamente é veículo de cultura e entretenimento, vou falar sobre livros. Como todas as coisas, abordar este "negócio" tem um/vários lado(s) ruim(ns) e um/vários lado(s) bom(ns). Ruim pois é mais difícil inserir imagens com adesão satisfatória ao que se aborda, algo que textos sobre quadrinhos, música e filmes tem em abundância. Ruim também porque as imagens dão ritmo a textos longos – característica deste blog - , como pontos de descanso em uma trilha. E bom, pois, como não há precedentes por estas bandas, as reações ao texto são inteiramente novas, assim como novas pessoas podem surgir pelos comentários se o assunto falar mais ao pé d'ouvido. Resumidamente, Nietzsche sofre de doenças terríveis e é convencido, através da ação da única mulher foco de seu amor recalcado, a tratar-se com o renomado Dr. Breuer. Até aí parece que é um livro maçante, mas a forma como a relação entre estes dois homens evolui é inapelável, além de contar com vários coadjuvantes de peso, bem como arranha a porta da aurora da psicanálise.
Resumidamente, Nietzsche sofre de doenças terríveis e é convencido, através da ação da única mulher foco de seu amor recalcado, a tratar-se com o renomado Dr. Breuer. Até aí parece que é um livro maçante, mas a forma como a relação entre estes dois homens evolui é inapelável, além de contar com vários coadjuvantes de peso, bem como arranha a porta da aurora da psicanálise. Não satisfeito, o livro é um manancial de frases-verdade; destas incontestáveis por quem entende que a vida é menos romântica do que se pensa. O que dizer, por exemplo, da frase "as pessoas, em verdade, amam o desejo e não a pessoa desejada"? Na minha fase de maturidade, não vejo verdade mais absoluta. A busca pelo desejar é arrebatadora, as pessoas desejadas são transitórias. E o "Transforme o 'assim se deu' em 'assim eu quis', caso contrário, não viverás uma vida, pois se não escolhes seu destino é a vida que te vive. Deseje o necessário e ame o que desejar. Amor Fati". Claro, são retórica e, por vezes, podem estar longe demais do que sentimos, pois falam à razão. Mas até isto o livro sabe e, para não permanecer imparcial, trabalha a conversão do discurso para a mente em discurso para o sentimento de forma natural, aproximando as palavras pensadas das palavras sentidas.
Não satisfeito, o livro é um manancial de frases-verdade; destas incontestáveis por quem entende que a vida é menos romântica do que se pensa. O que dizer, por exemplo, da frase "as pessoas, em verdade, amam o desejo e não a pessoa desejada"? Na minha fase de maturidade, não vejo verdade mais absoluta. A busca pelo desejar é arrebatadora, as pessoas desejadas são transitórias. E o "Transforme o 'assim se deu' em 'assim eu quis', caso contrário, não viverás uma vida, pois se não escolhes seu destino é a vida que te vive. Deseje o necessário e ame o que desejar. Amor Fati". Claro, são retórica e, por vezes, podem estar longe demais do que sentimos, pois falam à razão. Mas até isto o livro sabe e, para não permanecer imparcial, trabalha a conversão do discurso para a mente em discurso para o sentimento de forma natural, aproximando as palavras pensadas das palavras sentidas.





 Depois desse tributo aos deuses, já dá pra falar sem reservas de
Depois desse tributo aos deuses, já dá pra falar sem reservas de 


